Mas, sejamos positivos...
Há dias, numa consulta vet com os canídeos, disse-me a dra. Rita: "Os seus cães têm 7 anos, logo 49 por relação com os humanos. Estão, pois, na 3ª idade!" Fiquei descoroçoado e quase em pânico com a assertiva elocução. Tenho andado a classificar-me etariamente como um "homem de meia idade". E afinal, bem comparada a "coisa", estou na 3ª! O que não seria muito preocupante, caso houvesse uma 4ª. Mas assim...?!
Então, hoje acordei muito cedo, como de costume, e pensando não ter futuro, decidi que não me erradicariam a memória, ou o que dela resta.
E por assim ser, peguei num carro sem capota, pus o rádio com o som no máximo (única hipótese de ouvir - mal - alguma coisa a partir dos 100 à hora) -» Antena 2 e o bicentenário de Haydn, com muitas sonatas, e fui, deleitado, por estradas de outrora, Vila Meã, Ladário, Travaço, Travacinho, Coucão, Contige, as Donárias... com pouquíssimo movimento e muita árvore ramalhuda e umbrosa, até ao Sátão.
Os documentos escritos existentes, levam-nos a crer que o topónimo deriva de "Zalatane" (docº de doação de 1110 e 1º foral de 1111), e seria o nome de um mouro senhor destas terras. Deu Zaatam --» Çaatam --» Çaataom --» Çataoom -- Satam... (Ufa, estava a ver que nunca mais lá chegava!).
Fui à minha velha casa, às velhas ruas, ao velho jardim onde brinquei, à velha Igreja de Santa Maria onde fui baptizado (está tudo mesmo muito velho!), tirei fotografias às pedras e às portas (de que tanto gosto) e, à laia de conclusão, dei por bem gasto este tempo, nesta revisitação de um passado há muito ido, pelo calcorrear dos espaços de outrora. Deixo-vos imagens...
 Pedra com inscrição em latim, junto à parede de minha casa. Banco das amenas cavaqueiras nos fins de tarde de verão.
Pedra com inscrição em latim, junto à parede de minha casa. Banco das amenas cavaqueiras nos fins de tarde de verão. Carro do filho, à porta da velha garagem dos carros do pai (ainda lá estão 2 DS's parados desde 1985!).
Carro do filho, à porta da velha garagem dos carros do pai (ainda lá estão 2 DS's parados desde 1985!).














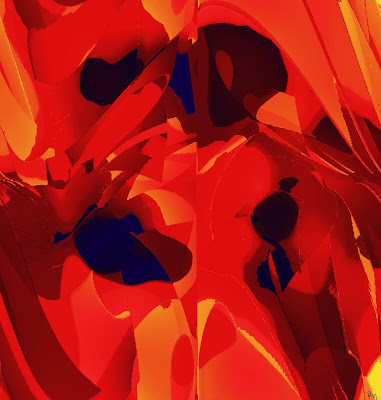



.jpg)




























